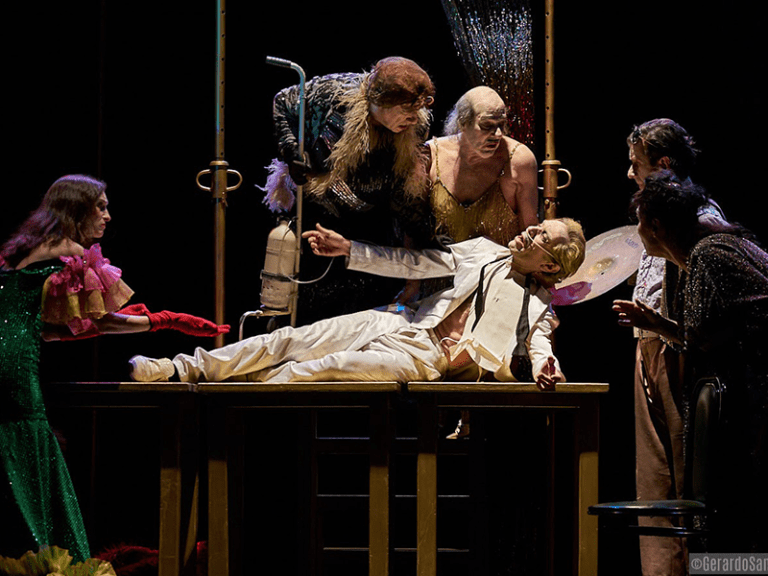[CRÍTICA] [OVO]

Foto: Humberto Araujo
Sérgio Maggio
Essa crítica é cravada ao meio. Separada por uma espécie de trinca que se abriu no palco para mim, espectador e leitor da cena. O ponto de ruptura ocorreu no momento exato em que os dois intérpretes de “Ovo”, Danieli Pereira e Renato Aforin Jr. (também diretor-dramaturgo), transformaram dinamicamente o cenário.
Os caixotes de madeiras, aparentemente fechados, sólidos e móveis, desfizeram-se diante dos nossos olhos. Com as mãos, eles retiraram as tábuas laterais e delimitaram um espaço circular de arena. Uma espécie de farelo vazou para o linóleo. Num dos caixotes que se abriram, havia uma inesperada presença viva, que respirava: dois pintinhos.
Antes da cisão:
Nos primeiros instantes de “Ovo”, Danieli e Renato estão no palco a recepcionar a plateia. Há uma nítida busca de cumplicidade em olhares e atenções. Ele, sobretudo, ajuda a organizar o público que chega. De quando em quando, olha um relógio e mostra-se extremamente concentrado na função teatral que vai abrir. Sabemos que vamos respirar juntos. Plateia e atores estão muito próximos para o início de “Ovo”.
O tom naturalista é mostrado de imediato como a linguagem a guiar. Há um clima quase tchecoviano para desfiar uma dramaturgia narrativa, poética e com licenças históricas. A partir de dois estudos psicanalíticos, os populares complexos de Édipo e de Electra, Renato, o dramaturgo, costura uma rede de afetos numa poética que se faz viva e palpável diante dos sentidos dos espectadores. Sinto vontade de ler, de acessar a dramaturgia e até mesmo parar a narrativa e admirá-la em câmera lenta diante uma carpintaria delicada de ideias e de palavras.
Nesse primeiro bloco, àqueles caixotes, responsáveis pela quebra de tudo, estão fechados e sendo continuamente movimentados por uma coreografia de contrarregragem. Ainda nesse momento, visualizo-os sempre como blocos sólidos e fechados. Não consigo ver frestas nem diferenciações entre um e outro. Os atores andam, sentam e deitassem sobre eles.
O tempo sensível da peça é do presente. Danielli é a irmã Electra, referência àquela que articulou o assassinato da mãe. Está num ponto de ônibus qualquer prestes a abrir a porta e avisar ao personagem Épido (na mitologia, Orestes é o irmão de Electra) sobre a morte da mãe que a amava loucamente.
A essa altura, já não estou mais em lua de mel com a peça. A linha naturalista de interpretação se impõe como uma matriz monolítica. Não há quebras de intenções nem variações dramáticas. Uma linha que, por vezes, deixa o trabalho de ambos atores bem linear. O recurso de metalinguagem é apontado aqui e ali e surge uma inesperada quebra de personagem, quando Renato simula, sem muito crédulo da plateia, que a sua pressão caiu e promove uma interrupção aparentemente sem finalidade.
Antes dos caixotes serem abertos, o que eu levo desse bloco são a beleza da carpintaria dramática e os valores éticos e humanos trazidos para o centro do palco.
Depois da cisão:
Dois pintinhos surgem sobre o farelo do caixote desmontado. Uma espectadora suspira, parece encantada. Não há nada mais frágil que dois pintinhos. Eu entro em choque. O que me vem à cabeça nesse instante é um filme que passa em velocidade: os caixotes fechados, sendo movidos pra lá e pra cá, bruscamente, e àqueles animais confinados, em pouco ar, nenhuma luz, movediços sobre os farelos em transe.
Os pintos saem em visível estado de pânico para a lateral bem frontal à minha visão. A partir desse momento, vou assistir ao espetáculo a partir de seus corpos desesperados. As aves piam sem parar e essa dramaturgia se acentua em tom de desespero quando Renato, um corpo de 1,80 metro (talvez), corre em círculos os acuando perto da madeira que outrora os encancerava no caixote.
Meu desespero aumenta. E se Renato sem querer pisoteá-lo? Sigo nesse afã. As vozes de Danielli e Renato, pra mim, tornam-se piados incomunicáveis. Os sons dos dois pintinhos, nítidos pedidos de socorro.
Como eles sofrem quando as luzes se alteram. A escuridão os apavora. Parecem gritar pela mãe que não tem mais. Mas quem clama pela genitora é Renato, que gostaria de sair do teatro e encontrá-la.
Não compreendo mais o texto. Não há poesia erguida. Tudo parece escombro. A minha percepção é aflitiva. Penso em interromper a peça e gritar: “Parem com esse abuso”. Olho para Alaô, coordenador do festival do Cena Contemporânea, sentado bem à minha frente, e penso o quão seria destrutivo meu ato ímpeto, para todos que trabalharam tanto para estarmos ali reunidos no aqui e agora. Desisto. Decido então me levantar e ir embora. Mas me lembro que assumi um compromisso em escrever essa crítica.
De repente, vejo que Renato (pra mim, há muito não existe mais personagem algum) corre bruscamente para apanhar um dos pintos. Coloca-o entre as mãos, fala um texto que me recuso a ouvir e simula o esmagamento do animal. Lembro-me do compromisso ético entre palco e plateia. Me sinto tão violado como espectador. Não me recordo de ter assistido um teatro que me maltratasse tanto.
Os pintinhos tentam fugir do cercado. Por duas vezes, a atriz e espectadora Rute Guimarães interrompe seu olhar pra cena para impedir que eles saiam pra coxias. Na coxias, sempre habitam ratos famintos. Ratos comem pintos. De repente, os atores simulam um enterro. A cena de sepultamento alivia meu martírio, uma tortura, um teatro de arena medieval. Vejo o sangue cênico nas mãos do ator e tudo ainda parece metáfora de um terror.
Levanto-me. Danielli tem os dois pintos em mãos. Diz que os ama, mas vai abandoná-los como as tralhas deixadas no palco nu, depois da desmontagem, quando tudo acabar e dois forem embora de Brasília. Busco um diálogo, o por que desses animais em cena em pleno agosto de 2018, num festival que se chama Cena Contemporânea. Ela não me compreende. Procuro Renato. Argumento, mas não acho eco. “Os pintos são de granja, vão mesmo pro abate”. Como é cruel ouvir isso de uma boca que falou tanta poesia humanista. Animais não são objetos de cena.
Pós cisão
Não me resta outro caminho que não seja o socorro ao ativismo animal. Os pintos saem de cena no dia seguinte, com diálogo mediado entre mim e a coordenação do Cena. Mas as questões ficam: Há novas ordens éticas em conjunção na humanidade e o teatro precisa compreendê-las porque fala essencialmente de humanidades.
“Ovo” fala de humanidades, mas seus pintos vivos e aflitos as desconstroem.
É disso que o teatro fala e sobre isso que vivemos essa experiência no Cena. E nessa esperança que seguimos, sem necessitar violar vidas no palco, mesmo as destinadas ao abate. Que a companhia teatral Agon Teatro siga firme em sua poesia e se refaça dessa experiência.
Deixem os pintos seguirem sua sina. Há quem queira alterá-las.
Sérgio Maggio é mestre em crítica teatral pela UnB e diretor-dramaturgo do Criaturas Alaranjadas Núcleo de Criação Continuada